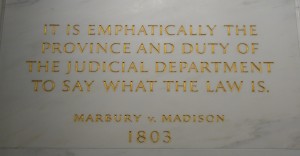Os livros de Direito Constitucional são rápidos ao apontar: o controle de constitucionalidade das leis nasceu com o julgamento do caso Marbury v. Madison, pela Suprema Corte dos EUA, em 1803.
Feita uma pequena ressalva na afirmação – Marbury, na verdade, foi o primeiro caso de controle de uma legislação federal em face da Constituição de um país –, restam as perguntas: mas, afinal, quem foi Marbury? E Madison, quem era? Quais foram as circunstâncias do julgamento? E quais foram suas reais consequências para os EUA e para o mundo?
Este texto busca abordar essas questões, envolvendo um dos mais importantes julgamentos da história.
As eleições presidenciais de 1800 nos Estados Unidos
Quando os votos da eleição presidencial americana de 1800 foram contados, o resultado foi um empate. Thomas Jefferson e Aaron Burr receberam 73 votos cada no colégio eleitoral. O então presidente, John Adams, concorrendo à reeleição, ficou com o terceiro lugar, com 65, e Charles Cotesworth Pinckney completou a relação dos candidatos, com 64.
Jefferson e Burr participaram da eleição defendendo o partido Republicano-Democrata, enquanto Adams e Pinckney eram os candidatos do partido Federalista. Os dois partidos tinham visões bastante distintas para a nova República americana. Os federalistas acreditavam em um governo central forte, capaz de garantir desenvolvimento econômico e segurança. Os republicanos repudiavam a centralização do poder e pregavam a máxima autonomia dos Estados membros.
Na política externa, a Revolução Francesa era vista com simpatia pelos republicanos e desconfiança pelos federalistas, que admiravam a estabilidade alcançada pelo governo britânico.
Apesar de a independência americana ter ocorrido havia pouco tempo, a política partidária já era praticada com vigor no país – uma característica que marcaria a democracia dos EUA para sempre. Jornais de inclinação republicana ou federalista enalteciam os líderes de cada grupo e criticavam veementemente seus opositores, por meio da publicação de artigos, editoriais e charges.
Denúncias de lado a lado e manifestações também eram frequentes. Os federalistas viam nos republicanos o radicalismo e a intempestividade que levaria a jovem república americana ao caos. Os republicanos estavam convictos de que a execução das ideias federalistas regrediria o país à monarquia despótica.
A vitória republicana nas eleições de 1800 foi completa. O partido não apenas conquistou a presidência, como também fez a maioria nas duas casas do Congresso: a Casa dos Representantes e o Senado, até então controladas pelos federalistas.
Na eleição presidencial, o empate não foi uma grande surpresa em si. Os republicanos eram maioria no colégio eleitoral, e os membros do colegiado, à época, tinham direito a lançar dois votos. De acordo com as regras, o candidato mais votado seria eleito à presidência e ao segundo caberia a posição de vice (em 1796, por exemplo, quando a divisão entre federalistas e republicanos ainda não era bem definida, Adams, o primeiro colocado, assumiu a presidência, tendo Jefferson, o segundo, como vice).
A surpresa na eleição ficou por conta da conduta de Aaron Burr. Personagem controverso (em 1804, Burr mataria seu desafeto político Alexander Hamilton em um famoso duelo), Burr foi inscrito na cédula eleitoral depois de ajudar o partido Republicano a vencer as eleições no Estado de Nova York, arrecadando votos fundamentais para o partido no colégio eleitoral.
A participação de Burr nas eleições presidenciais, contudo, era vista com muita clareza pelos republicanos: Burr seria o vice de Jefferson, o candidato principal do partido. Assim, quando o empate foi revelado, os membros do partido receberam com espanto a notícia de que Burr não abriria mão da disputa.
De acordo com a Constituição americana, o desempate seria realizado pela Casa dos Representantes, e favoreceria o canditado que obtivesse a maioria absoluta dos votos, em uma eleição feita por Estado. Como o país, à época, era formado por 16 Estados, o vencedor seria aquele que atingisse 9 votos.
A votação seria feita pela composição da Câmara então vigente, e não por aquela recém-eleita, que tomaria posse apenas em 04 de março de 1801, junto com os novos senadores e presidente.
Embora os federalistas ainda controlassem a Casa em número de representantes, os republicanos tinham a maioria das delegações em 8 Estados. Seis Estados tinham maioria federalista, e Maryland e Vermont tinham delegações igualmente divididas.
Na primeira tentativa de desempate, em 11 de fevereiro de 1801, o placar foi 8 a 6 para Jefferson, com todas as delegações republicanas votando a favor de Jefferson e todas as federalistas a favor de Burr. Os representantes de Maryland e Vermont não chegaram a um consenso e não lançaram voto em prol de candidato algum. Como a maioria dos votos não foi obtida, outras rodadas de votação foram programadas.
Um presidente e um Congresso patos mancos – mas nem tanto
Nos EUA, o político em final de mandato costuma ser chamado de pato manco (lame duck). A expressão aponta para a falta de influência e poder de quem logo será substituído na função.
Em fevereiro de 1801, com pouco mais de um mês de mandato pela frente, o presidente John Adams e o Congresso federalista – como se buscassem contrariar o epíteto de mancos –, decidiram levar adiante algumas propostas de alterações significativas no Poder Judiciário americano. Assim, o Congresso colocou em pauta e aprovou duas leis.
A primeira, que ficaria conhecida como o Ato Judiciário de 1801 (Judiciary Act of 1801), criou cortes distritais de apelação no Poder Judiciário Federal dos EUA, estabelecendo uma camada intermediária na Justiça federal do país composta por 16 juízes. A lei também estabeleceu que os juízes da Suprema Corte americana passariam a exercer função judicante apenas na recém-inaugurada capital Washington, eximindo-se do dever então existente de percorrer circuitos judiciários.
A segunda lei, o Ato Judiciário do Distrito de Columbia, criou 3 novos cargos de juízes federais e outros cargos públicos no Distrito em que se localizava a capital. Entre os novos postos, estavam dezenas de cargos de juiz de paz, com competência para resolver pequenos conflitos.
Apesar do nome e da atribuição, os juízes de paz não integravam o Poder Judiciário. Ao contrário dos juízes regulares, que assumiriam seus cargos em caráter vitalício, os juízes de paz permaneceriam na função pelo prazo de cinco anos. A posição não era financeiramente atrativa, mas trazia prestígio político ao ocupante.
De acordo com as leis de 1801, os postos criados seriam preenchidos por indicação do presidente, após aprovação do Senado.
As leis sofreram severa oposição dos republicanos, que as encaravam como uma estratégia federalista de permanecer no poder, mesmo após a derrota nas eleições. Os republicanos criticavam, especialmente, a possibilidade de utilização dos novos postos de juízes para fazer do Judiciário um bastião federalista no Estado americano, contrariando a vontade popular manifestada nas eleições.
A propósito, em janeiro de 1801, John Adams já havia indicado o novo juiz chefe (Chief Justice) da Suprema Corte dos EUA. O escolhido fora John Marshall, então secretário de Estado da administração federal.
Nascido no Estado da Virgínia, em 1755, Marshall serviu como auxiliar de George Washington na Guerra de Independência americana (1775-1783) e, após o fim dos combates, formou-se em Direito pela Universidade de William e Mary.
Marshall foi um advogado bem sucedido e membro da legislatura estadual de Virgínia. Em conjunto com James Madison, foi fundamental na defesa da ratificação da Constituição americana por seu Estado.
Marshall foi posteriormente eleito representante da Virgínia no Congresso nacional e festejado como herói nacional em 1798, quando foi divulgado que se indignara diante de um pedido de propina feito por representantes do governo francês nas negociações de um tratado de paz com os EUA – episódio que ficou conhecido como o “caso XYZ” (XYZ Affair)
Marshall era gregário, inteligente e bem quisto, mas mantinha uma significativa indisposição com seu primo distante, Thomas Jefferson (o avô de Jefferson e o bisavô de Marshall eram irmãos). Ressentimentos familiares (a avó de Marshall entrou em disputa com a família de Jefferson, e a madrasta de Marshall foi a primeira noiva de Jefferson) e desentendimentos políticos levaram os dois a manter uma relação tensa e de desconfiança ao longo de toda vida.
À época da designação de Marshall como juiz chefe, a Suprema Corte dos EUA era um órgão com competência pouco definida e com importância muito distinta em relação à Presidência da República e ao Congresso, seus correspondentes nos Poderes Executivo e Judiciário. Criada em 1789, com a ratificação da Constituição americana, a Corte era composta por seis membros, que se reuniam por poucos dias ao ano. Na capital Washington, inaugurada em 1800, o Tribunal nem sequer tinha sede própria e ocupava uma sala improvisada no prédio do Congresso.
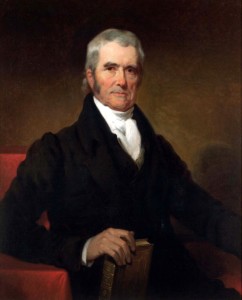
John Marshall: juiz chefe da Suprema Corte dos EUA entre 1801 e 1835, autor do voto que decidiu o caso
Os juízes da meia-noite
Para preencher as dezenas de cargos abertos pelas leis aprovadas em fevereiro de 1801, Adams trabalhou intensamente. Para tanto, contou com o apoio de seu gabinete, especialmente de Marshall, que cumulava provisoriamente as posições de secretário de Estado e chefe da Suprema Corte (o que seria impensável hoje em dia).
No processo de indicação, o presidente tinha de encaminhar os nomes ao Senado, obter a ratificação daquela Casa e assinar as comissões aos nomeados. Na sequência, cabia ao Departamento de Estado afixar o selo dos EUA às comissões e entregá-las aos destinatários.
Valendo-se do apoio da maioria federalista no Senado, Adams obteve a ratificação de dezenas de nomeados, que ficaram genericamente conhecidos como os juízes da meia-noite (the midnight judges). A expressão indicava a pressa para as nomeações, que deveriam ocorrer antes da posse dos novos congressistas e do novo presidente.
Um dos nomeados da meia-noite era William Marbury, indicado para o cargo de juiz de paz do Distrito de Columbia. Nascido em Maryland, em 1762, Marbury era um federalista, assim como boa parte dos midnight judges.
Empresário ambicioso e perspicaz, Marbury galgou importância na sociedade de seu Estado. À certa altura de sua vida profissional, foi nomeado o principal agente financeiro de Maryland, sendo responsável pela cobrança de tributos e comercialização de títulos públicos. Marbury cobrava uma comissão sobre as atividades e com isso acumulou riqueza substancial. Após exercer a função, foi nomeado para o cargo de agente naval do governo federal americano, posição que ainda ocupava quando foi indicado para o cargo de juiz de paz.
No dia 03 de março, às vésperas da posse da nova gestão, as comissões de alguns juízes de paz aprovados no Senado ainda permaneciam no Departamento de Estado. Os documentos haviam sido assinados por Adams e selados por Marshall, mas ainda não haviam sido entregues a seus destinatários. No corre-corre do último dia de mandato, parte dos documentos foi simplesmente esquecida no Departamento. Entre aquelas que não receberam sua comissão, estava William Marbury.

William Marbury, autor da ação: empresário ambicioso, foi nomeado juiz de paz do Distrito de Columbia, mas não pôde assumir o cargo
Jefferson toma posse e Marbury processa Madison
No dia 17 de fevereiro de 1801, depois de 36 rodadas de votação, a Casa dos Representantes, enfim, desempatou a eleição presidencial de 1800: Thomas Jefferson foi eleito presidente com 10 votos a 4. A eleição foi decidida com os votos dos representantes de Maryland e Vermont, que decidiram por Jefferson, e dos representantes de Delaware e Carolina do Sul, que retiraram o voto em Burr e se abstiveram.
Jefferson acompanhou a nomeação dos midnight judges com enorme descontentamento. A medida fez sua relação com Adams, já estremecida, piorar.
Jefferson e Adams haviam sido bons amigos e colaboradores quando participaram do movimento de independência dos EUA e serviram ao mesmo tempo como representantes do país na Europa. Com a partidarização da política americana, contudo, e em virtude dos episódios envolvendo a sucessão presidencial de um pelo outro, Jefferson e Adams se afastariam – até que em 1812 retomariam uma profícua correspondência que manteriam até o final de suas vidas, em 1826.
Empossado presidente, Jefferson propôs e obteve a revogação do Ato Judiciário de 1801, em 08 de março de 1802, extinguindo dezenas de postos ocupados pelos midnight judges. O Ato de 1801, em seguida, foi substituído pelo Ato Judiciário de 1802 (Judiciary Act of 1802), aprovado em 29 de abril, que reestruturou o sistema judiciário federal americano. Entre outras disposições, o Ato de 1802 determinou que os juízes da Suprema Corte voltariam a percorrer os circuitos judiciários no país.
As comissões dos juízes de paz que haviam permanecido no Departamento de Estado em 03 de março de 1801 foram avistadas pelo próprio Jefferson no dia seguinte, quando, já empossado presidente, realizou uma visita ao Departamento. Por sua ordem, os documentos foram retidos – e, provavelmente, destruídos.
Por não ter recebido sua comissão, Marbury não pôde imitir-se na função. Inicialmente, Marbury não se insurgiu contra a situação, pois fora mantido no cargo de agente naval pela nova administração. Em 16 de dezembro de 1801, contudo, após ter sido destituído do posto, Marbury procurou a Suprema Corte.
Em companhia de outros três nomeados cujas comissões para juiz de paz não haviam sido entregues (Dennis Ramsay, Robert Townsend Hooe e William Harper) e sob o patrocínio do advogado Charles Lee (ex-advogado-geral dos EUA), Marbury ajuizou uma ação para cumprimento de dever de fazer (writ of mandamus) contra o novo secretário de Estado dos EUA, James Madison.
Madison também nascera na Virgínia, em 1751. Formado em Princeton, foi um brilhante político, que acabaria se tornando o 4º presidente dos Estados Unidos, em 1809. Madison integrou a legislatura estadual, foi representante da Virgínia no Congresso americano e foi o principal redator da Constituição do país, em 1787, e de dez de suas primeiras emendas, reunidas no Bill of Rights, em 1789.
Em companhia de Alexander Hamilton e John Jay, Madison escreveu em 1788 o conjunto de artigos em favor da ratificação da Constituição que ficaria conhecido como “O Federalista” (The Federalist Papers). Em seguida, participou ativamente da defesa da ratificação da Constituição americana por seu Estado natal, fazendo par com John Marshall. Foi o maior confidente e aliado de Jefferson.
O começo do julgamento
Na ação ajuizada contra Madison, Marbury e os demais autores solicitaram à Suprema Corte que determinasse ao secretário de Estado a entrega das comissões retidas em março.
Marshall recebeu a ação em 18 de dezembro de 1801 e determinou a Madison que apresentasse causa para a não expedição da ordem solicitada.
A decisão repercutiu e o julgamento passou a ser acompanhado com grande atenção pela imprensa e classe política americana, que o fizeram objeto de reportagens e debates no Congresso.
Causava espanto e revolta, principalmente entre os republicanos, a possibilidade de um jovem Tribunal formado por juízes não eleitos, funcionando em um ambiente improvisado e comandado por alguém nitidamente vinculado ao governo anterior, determinar à Presidência o cumprimento de uma medida – especialmente uma que parecia nitidamente feita para beneficiar o Partido Federalista.
A tensão envolvendo o caso era potencializada pela disputa em relação ao papel da Suprema Corte no controle de constitucionalidade das leis no jovem Estado americano. Embora os debates da Convenção Constitucional americana de 1787 tivessem indicado que a maior parte dos constituintes entendia que esse controle cabia ao Poder Judiciário (tese defendida com vigor por Alexander Hamilton no “O Federalista” nº 78), a conclusão não ficara explicitamente estabelecida na Carta Magna.
Assim, a matéria foi reavivada com força por ocasião do julgamento de Marbury, e artigos de jornal e discursos abordaram o assunto.
Mais uma vez, federalistas e republicanos se posicionaram em lados opostos, com os últimos em geral levantando-se contra o exercício do controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário – e, naturalmente, pela Suprema Corte. O próprio presidente Thomas Jefferson era contra o reconhecimento desse poder para os Tribunais. Para Jefferson, cada um dos três Poderes tinha competência exclusiva para fazer o controle de constitucionalidade sobre seus próprios atos, e nenhum deles poderia interferir na decisão adotada pelo outro.
Contra o exercício do controle de constitucionalidade pela Suprema Corte, especialmente, apontava-se que nenhum Tribunal de outro país do mundo podia controlar a constitucionalidade de atos do governo. Na Inglaterra, por exemplo, cabia ao Parlamento a última palavra sobre a validade das leis.
Assim, era possível que, caso a Suprema Corte resolvesse decidir o caso a favor de Marbury, uma grave crise institucional com a Presidência se instalasse, tendo como provável consequência a derrota da parte mais fraca. Não seria surpresa se os membros da Corte sofressem processos de impeachment por parte do Congresso republicano.
Em 1804, aliás, a Casa dos Representantes de fato autorizou o impeachment de um dos juízes do Tribunal, Samuel Chase, um ferrenho federalista no passado, acusado de parcialidade no exercício das funções. No ano seguinte, contudo, Chase foi absolvido das acusações pelo Senado.
Recusando-se a emprestar dignidade a Marbury, Thomas Jefferson proibiu Madison de responder à intimação expedida por Marshall. Jefferson também proibiu o então advogado-geral dos EUA, Levi Lincoln, de defender o governo na ação.
Enquanto isso, no Congresso, o Ato Judiciário de 1801 era repelido e o Ato Judiciário de 1802 era aprovado. Para evitar que a Suprema Corte se manifestasse sobre as novas modificações na estrutura do Poder Judiciário federal (descritas acima), o Ato de 1802 também adiou a próxima sessão da Corte para o ano seguinte.
O julgamento
Em 10 de fevereiro de 1803, a Suprema Corte voltou a se reunir e o julgamento de Marbury foi retomado. Diante da não apresentação de defesa pelo governo, as únicas testemunhas chamadas a depor foram arroladas pela parte autora. Charles Lee interrogou funcionários do Departamento de Estado em serviço na época dos fatos em discussão, incluindo o próprio advogado-geral do país Levi Lincoln, que ocupara interinamente a Secretaria de Estado até a posse de Madison.
Embora as testemunhas tenham invocado privilégio executivo para não depor, Marshall determinou que os ouvidos se manifestassem (embora os tenha autorizado a opor-se a falar sobre fatos que entendessem sigilosos e a calar-se sobre fatos que os pudessem incriminar).
As testemunhas afirmaram que algumas comissões para juiz de paz, embora aprovadas pelo Senado, assinadas pelo presidente Adams e seladas pelo então secretário de Estado (o próprio Marshall!), haviam, de fato, sido deixadas no Departamento de Estado durante a sucessão presidencial. Entre essas comissões, afirmaram, provavelmente estava a de Marbury. Depondo com cautela, as testemunhas disseram não saber o que foi feito das comissões, contudo.
Após as oitivas, Charles Lee apresentou suas razões finais. Lee argumentou que os eventos descritos na inicial haviam ficado comprovados e requereu a procedência da ação. O julgamento foi suspenso.
A Suprema Corte voltou a tratar do assunto em 24 de fevereiro de 1803, quando Marshall divulgou a decisão do Tribunal, redigida de seu próprio punho. A propósito, a prática de divulgar uma única manifestação da Corte, sem a prolação de votos independentes por seus membros, fora trazida ao Tribunal por Marshall. O objetivo era transmitir unidade e coesão, conferindo mais credibilidade às decisões da Corte.
Ao contrário de outra prática do Tribunal, que costumava proferir decisões curtas, Marshall proferiu um longo e profundo voto em Marbury, analisando com minúcias os fatos relevantes em discussão.
Marshall dividiu a decisão em três partes, nas quais se dispôs a responder às seguintes indagações: 1- se Marbury tinha direito à comissão de juiz de paz; 2- se a legislação americana lhe garantia um remédio processual; e 3- e se o remédio processual buscado (writ of mandamus) poderia ser concedido pela Suprema Corte.
As duas primeiras perguntas foram respondidas afirmativamente. A partir dos depoimentos tomados no processo (e, por certo, da própria experiência do juiz chefe em relação aos fatos em julgamento), Marshall concluiu, em primeiro lugar, que a indicação de Marbury ao cargo fora aprovada pelo Senado, e que sua comissão fora assinada pelo presidente e selada pelo secretário de Estado. Com as medidas, a nomeação deveria ser considerada pronta e acabada.
Como o ocupante do cargo de juiz de paz não podia ser removido da função pela vontade do presidente da República – prosseguiu Marshall – Marbury tinha o direito de permanecer no cargo pelo prazo de cinco anos para o qual fora nomeado. A retenção de sua comissão pelo Departamento de Estado, portanto, fora ilegal e violara um direito do autor.
Em relação à segunda pergunta, Marshall citou Blackstone para concluir pela existência de uma regra geral e indisputável segundo a qual todo direito, caso violado, devia ser acompanhado de um remédio processual. Para Marshall, o governo dos EUA era reiteradamente qualificado como um governo de leis, e não de homens, atributo que desapareceria caso se concluísse que a legislação do país não atribuía um remédio processual para a violação de um direito.
Marshall passou, então, a examinar a terceira pergunta, anunciando que a resposta dependeria de duas definições: 1- a natureza do provimento buscado pelos autores; e 2- o poder da Suprema Corte para concedê-lo.
Marshall concluiu que o writ of mandamus era, sim, o remédio adequado ao caso, pois o objetivo era determinar ao Departamento de Estado que entregasse aos autores as comissões retidas – ou ao menos cópias delas. Para Marshall, não estava em julgamento um ato discricionário do governo americano, infenso à revisão judicial, mas, sim, um ato definido pela lei, que, ao não ser praticado, violara um direito individual e diante do qual o Poder Judiciário deveria agir.
Marshall, em seguida, concluiu que a Constituição autorizava a Suprema Corte a expedir writ of mandamus a pessoas em exercício de cargo no governo americano, requisito que era preenchido pelo secretário de Estado Madison.
Chegava o momento de examinar a última questão e, até então, tudo indicava que a Suprema Corte julgaria a ação movida por Marbury procedente. Os presentes à sessão da Suprema Corte acompanhavam atônitos à leitura do voto, certamente imaginando as consequências que um julgamento favorável poderia produzir.
Numa virada na linha de argumentação, contudo, Marshall afirmou que a Carta Magna americana atribuía competência originária à Suprema Corte somente em dois casos: no julgamento de embaixadores e diplomatas e quando um Estado da federação fosse parte do processo. Em todas as demais situações, a Suprema Corte, de acordo com a Constituição, deveria funcionar como um Tribunal de revisão ou apelação.
Marshall concluiu, então, que a legislação que atribuíra à Suprema Corte competência originária para julgar writ of mandamus em casos indiscriminados (Marshall se referia ao Ato Judiciário editado pelo Congresso americano em 1789 e que embasou a ação proposta por Marbury) havia violado a Constituição americana, e que o caso, portanto, não poderia ser julgado pela Suprema Corte sem antes passar por um Tribunal inferior.
Marshall indicou que, se os membros do governo americano pudessem alterar por conta própria os seus poderes, o governo dos EUA, no fundo, disporia de poderes ilimitados. Marshall concluiu, contudo, que os cidadãos americanos haviam colocado limites ao seu governo, e que estes limites estavam inscritos na Constituição do país.
Marshall afirmou, ainda, tratar-se de uma proposição óbvia a afirmação de que a Constituição deveria controlar qualquer ato legislativo contrário a ela: “entre essas alternativas, não há meio termo. Ou a Constituição é a lei superior, inalterável por meios ordinários, ou está no mesmo nível dos atos legislativos ordinários, e é alterável quando a legislatura desejar”.
De acordo com Marshall, o ato legislativo contrário à Constituição não era Direito. O ato era nulo, e ao Poder Judiciário caberia o poder de reconhecê-lo como tal: “é enfaticamente a competência e o dever do Poder Judiciário dizer o que o Direito é”. Marbury, portanto, foi rejeitado pela Suprema Corte, e o caso, encerrado.
William Marbury não voltaria a procurar o Poder Judiciário para discutir a nomeação e manteria suas atividades como empresário até falecer, em 1835.
A importância e as consequências de Marbury
Marbury foi recebido com hesitação pela imprensa e classe política americana. A Suprema Corte havia considerado ilegal um ato praticado a mando do próprio presidente. Aliás, a decisão representava uma reprimenda um pouco desconcertante para Jefferson. No final das contas, contudo, o governo vencera a ação. Marbury teve declarado o seu direito ao cargo, mas saiu do julgamento de mãos vazias. Quem, afinal, deveria celebrar o resultado?
A decisão foi objeto de elogios e críticas. Marshall foi parabenizado pela erudição de seu voto e pela importante defesa da Constituição, mas também foi repreendido. Alguns críticos apontaram que o juiz chefe aproveitara o caso apenas para mandar um recado ao governo republicano de Jefferson, afinal, não havia outra razão para Marshall ter analisado o mérito de um caso que acabaria por rejeitar.
Era impossível ficar indiferente ao julgamento, contudo. Pela primeira vez na história, a Suprema Corte de um país considerava inconstitucional um ato legislativo emanado pelo Poder Legislativo federal.
Algumas Supremas Cortes estaduais americanas já haviam declarado a inconstitucionalidade de leis estaduais diante de Constituições dos Estados, mas, até então, Tribunal algum considerara nula uma lei editada pelo Congresso nacional por violação à Constituição federal.
A maneira como Marshall conduziu seu voto também merece grande destaque. Conhecedor da fragilidade da Suprema Corte e do risco para a própria instituição em caso de um eventual confronto com os Poderes Executivo e Legislativo, Marshall evitou o embate, ao mesmo tempo em que confirmou a autoridade do Tribunal – e do Poder Judiciário americano como um todo.
O real significado de Marbury, contudo, tem sido objeto de discussão. Questiona-se a efetiva consequência prática do caso e para tanto se menciona, especialmente, o julgamento proferido pela Suprema Corte em Stuart v. Laird, decidido apenas alguns dias depois.
John Laird havia processado Hugh Stuart em 1801 e obtido um provimento favorável em uma corte do quarto distrito da Virgínia, criada pelo Ato Judiciário de 1801. Em 1802, Laird voltou ao Judiciário para obter o cumprimento forçado da decisão, mas a corte do quarto distrito havia sido eliminada naquele mesmo ano pelo Congresso republicano, que também reorganizara os circuitos judiciários pelo Ato Judiciário de 1802.
O caso, então, foi redistribuído para uma corte do quinto distrito da Virgínia, sob a presidência de ninguém menos que John Marshall, que voltara a percorrer circuitos judiciários por força do mesmo Ato Judiciário de 1802 – assim como seus pares na Suprema Corte.
Vislumbrando uma oportunidade de reformar a decisão proferida no processo em 1801, Stuart, representando por Charles Lee (o mesmo advogado de Marbury), alegou que a decisão deveria ser reconhecida como inválida, pois o Congresso não teria competência constitucional para dispor sobre a organização das cortes. Marshall refutou a defesa e decidiu a favor de Laird.
Stuart, então, levou o caso à Suprema Corte, acrescentando outro argumento a favor de seu pedido: a determinação aos juízes da Suprema Corte para que voltassem a percorrer circuitos judiciários também era inconstitucional.
Por ter apreciado o caso na corte inferior, Marshall se recusou a participar do julgamento, que foi conduzido pelo juiz William Paterson. Decidindo em nome da Corte, Paterson rejeitou as alegações de Stuart, afirmando que o Congresso tinha autoridade constitucional para estabelecer ou abolir cortes federais inferiores.
Paterson também decidiu que a atuação dos juízes da Suprema Corte nos circuitos judiciários não violava a Constituição, destacando que, após a ratificação da Constituição americana e por vários anos, os membros da Suprema Corte percorreram circuitos, sem que tenha havido controvérsia a respeito.
Stuart é citado para pôr em xeque a importância Marbury por dois motivos. Em primeiro lugar, para indicar uma contradição no comportamento de Marshall, que se vira impedido para atuar em Stuart, mas não fizera o mesmo Marbury, em que seu envolvimento com os fatos era equivalente ou mais profundo. Em segundo lugar, para concluir que, afinal, a Suprema Corte de Marshall não desafiara a Presidência e o Congresso republicanos, mas, na verdade, curvara-se a eles.
Nesse sentido, alega-se especialmente que a Suprema Corte, com um pequeno esforço, poderia ter declarado a inconstitucionalidade das leis aprovadas pelo Congresso americano em 1802 em Stuart por uma outra razão: a extinção de postos de juízes federais nomeados em caráter vitalício.
Stuart, assim, representaria mais adequadamente a Corte de Marshall que o próprio Marbury, o qual, no entanto, ao longo da história, teria tido sua relevância aumentada.
A conclusão seria confirmada por outro fato importante: embora a Corte de Marshall (1801-1835) tenha declarado a inconstitucionalidade de diversas leis estaduais, a Suprema Corte dos EUA somente voltaria a reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei editada pelo Congresso americano em 1857, no célebre caso Dred Scott v. Sandford.
Em Dred Scott, o Tribunal considerou inconstitucional o Compromisso de Missouri (Missouri Compromise), de 1820, que proibira a escravidão em novos territórios dos EUA.
A primeira crítica a Marbury é indefensável. A única explicação para Marshall ter tomado parte no julgamento era, de fato, o seu desejo de fazê-lo. Afinal, foi o próprio Marshall quem, na qualidade de secretário de Adams, selou as comissões para os juízes de paz nomeados (e deixou de entregá-las).
Aliás, a não participação de Marshall em Stuart também pode ser explicada pela vontade do juiz chefe. No início da República americana, não era incomum que juízes julgassem o mesmo caso em instâncias distintas. Em cartas enviadas aos demais juízes da Suprema Corte, contudo, Marshall havia inicialmente defendido a inconstitucionalidade da volta do percurso de circuitos judiciários pelos juízes do Tribunal. Diante da opinião dos demais membros do colegiado em sentido contrário, é provável que Marshall tenha deixado de participar do julgamento para simplesmente não se filiar formalmente à opinião da Corte.
A segunda crítica a Marbury é importante, mas parece exagerada. Em primeiro lugar, há traços distintos entre os dispositivos constitucionais sob análise em Stuart e em Marbury. A Constituição americana dispunha, como ainda dispõe, que o “Poder Judiciário dos Estados Unidos deve ser investido em uma Corte Suprema e em tantas Cortes Inferiores que o Congresso periodicamente ordenar e estabelecer” (artigo 3, seção 1). O texto, convenha-se, adequa-se bem à interpretação do juiz William Paterson.
Além disso, o prévio percurso de circuitos judiciários pelos juízes da Suprema Corte era, de fato, um argumento eloquente a favor da constitucionalidade das reformas no Judiciário realizadas pelo Congresso republicano.
A propósito, Stuart não recebeu atenção significativa da imprensa ou da classe política americanas, muito diferentemente do que ocorreu com Marbury, em um sinal claro da importância de cada um.
A relativização de Marbury, ademais, parece padecer do mesmo excesso que busca destacar na valorização do caso. Parece muito claro que a autoafirmação da Suprema Corte americana como órgão equivalente à Presidência e ao Congresso, dotada do poder de interpretar a Constituição por último, não ocorreria de forma abrupta, mas, sim, aos poucos, em um longo processo de convencimento das comunidades política e jurídica.
Parece errado qualificar a autocontenção da Corte de Marshall manifestada em Marbury diante dos Poderes Executivo e Legislativo como uma capitulação, ao invés de encará-la como uma estratégia inteligente para afirmar a dignidade do Tribunal.
Não por acaso, James Marshall serviu como juiz chefe da Suprema Corte dos EUA por 34 anos e é tido por muitos como o maior executor da função até hoje. Marshall assumiu uma instituição débil e sem prestígio e a transformou completamente. Marbury segue sendo continuamente citado em julgamentos do Tribunal, assim como em outras cortes do EUA e do mundo. Da mesma forma, o caso é um dos mais estudados nas faculdades de Direito americanas e de boa parte do globo.
Trata-se sem dúvida alguma de um dos mais importantes julgamentos da história. Sua relevância é tríplice: em primeiro lugar, Marbury afirmou o papel predominante das Constituições escritas nos ordenamentos jurídicos. Em segundo lugar, Marbury afirmou o controle judicial dos atos e das leis (judicial review), especialmente à luz da Constituição, atribuindo ao Poder Judiciário o papel de interpretá-la por último. Em terceiro lugar, Marbury conferiu ao Judiciário importância e prestígio entre os demais Poderes.
Os três temas, que ainda eram objeto de disputa nos EUA e em todo mundo – lembre-se que o próprio presidente Thomas Jefferson era contrário à predominância do Poder Judiciário no controle de constitucionalidade – hoje são praticamente pressupostos no Direito constitucional de muitos países.

Plenário atual da Suprema Corte dos EUA: Marbury elevou o prestígio e a importância do Poder Judiciário
Pós-escrito
Talvez em virtude do antiamericanismo que predomina em fração importante das universidades brasileiras, a formação do Direito Constitucional dos EUA, surpreendentemente, não costuma ser objeto de estudo por nossos acadêmicos.
Em prejuízo da inteligência e da honestidade intelectual, nossos alunos são preservados da leitura e análise dos textos e documentos jurídicos elaborados pelos founding fathers da nação americana, como se não tivesse nascido com a formação dos EUA boa parte do constitucionalismo ocidental (especialmente do constitucionalismo brasileiro).
Em seu lugar, os acadêmicos brasileiros costumam ser apresentados ao legalismo estéril ou a doutrinas supostamente sofisticadas, mas que não fazem qualquer sentido sem uma base teórica e histórica consistentes.
Raríssimas vezes na história do mundo um grupo tão especial de pessoas pôde conviver e trabalhar em um objetivo único. George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, John Marshall, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, entre outros, formaram uma geração brilhante, que teve à frente a necessidade de criar a legislação e as instituições de seu país.
O que fizeram, falaram e, principalmente, escreveram forma um acervo riquíssimo para os interessados em estudar e participar da construção de governos sólidos, democráticos e duradouros.
Boa parte dos founding fathers tomou parte na guerra de independência dos EUA e viu em primeira mão os horrores dos campos de batalha. Todos eles, além disso, tinham muito claro o que poderia significar o fracasso na construção de um novo Estado.
Mas mesmo com a cabeça a prêmio, não se furtaram a lutar pelo que acreditavam, seja na guerra, seja na política. Sua coragem e sua dedicação à causa pública deveriam despertar mais interesse, especialmente em um país, como o Brasil, em que a covardia e a celebração do interesse particular muitas vezes são a regra.
BIBLIOGRAFIA
Este texto não existiria sem a consulta ao livro “The Great Decision: Jefferson, Adams, Marshall, and the Battle for the Supreme Court”, de Cliff Sloan e David McKean, publicado pela editora PublicAffairs. A obra é um apanhado brilhante dos personagens e das circunstâncias em Marbury, em um texto leve, mas profundo e muito bem escrito.
Para uma análise da disputa sobre o judicial review nos primeiros anos da República americana, conferir “The Doctrine of Judicial Review: its legal and historical basis and other essays”, de Edward S. Corwin, publicado pela Lawbook Exchange.
Para uma crítica à importância de Marbury, ver “The Failure of the Founding Fathers: Jefferson, Marshall, and the Rise of Presidential Democracy”, de Bruce Ackerman, publicado pela Belknap Press.
Jed Glickstein produziu um extraordinário trabalho de pesquisa sobre os midnight judges de 1801 e as medidas que adotaram para tentar voltar aos cargos de juízes federais, após as posições terem sido extintas pelo Congresso em 1802. O texto chama-se “After Midnight: The Circuit Judges and the Repeal of the Judiciary Act of 1801” e foi publicado no Yale Journal of Law & the Humanities. O trabalho pode ser acessado em http://digitalcommons.law.yale.edu/yjlh/vol24/iss2/.
A transcrições de Marbury v. Madison, Stuart v. Laird e Dred Scott v. Sandford, o texto da Constituição americana e o “The Federalist Papers” podem ser encontradas, na íntegra, em diversos sites da internet. Para acessar a transcrição dos casos, prefira o Legal Information Institute, da Universidade Cornell: https://www.law.cornell.edu/.
Há diversas biografias escritas sobre os principais personagens em Marbury, entre as quais se destacam: “John Adams”, por David McCullough, publicado pela Simon & Schuster, e “American Sphinx: The Character of Thomas Jefferson”, de Joseph J. Ellis, publicado pela Vintage.
Os livros “Founding Brothers: The Revolutionary Generation”, de Joseph J. Ellis, publicado pela Vintage, e “Revolutionaries”, de Jack Racove, da HMH Books, também são ótimas fontes de consulta sobre os protagonistas dos primeiros anos dos EUA.